Descrição
PREFÁCIO
Necessário, pioneiro e consistente! Com esses adjetivos, dou início ao prefácio deste livro agradecendo o honroso convite que recebi de seu autor, Julio Cesar Francisco.
Sim. É um livro necessário, porque já estava na hora de a educação dos jovens infratores submetidos à ação penal do Estado tornar-se objeto de um estudo minucioso tendo em vista a superação dos limites, das mazelas e mesmo das distorções que caracterizam a educação dos jovens infratores em nosso país. É pioneiro, pois desbrava um campo até agora carente de análise específica e aprofundada. É igualmente consistente, o que se explica pela experiência de vida de seu autor e pela firmeza com que ele se dedicou à análise aprofundada de seu objeto, acionando fundamentos teóricos relevantes aplicados ao estudo empírico percuciente das condições em que os jovens são conduzidos a infringir a lei e, em consequência, a ser submetidos à correção disciplinar da justiça juvenil.
De fato, Julio, na condição de órfão de pai e mãe, desde criança foi submetido à ação do Estado, vivenciando as vicissitudes às quais estão sujeitos as crianças, os adolescentes e os jovens socialmente desamparados. Tendo dado a volta por cima, ele decidiu dedicar-se plenamente ao estudo desse tema em seu trabalho de conclusão do curso de pedagogia, em sua dissertação de mestrado, em sua tese de doutorado e, agora, em sua pesquisa de pós-doutorado.
Apetrechado com os estudos realizados na graduação e na pós-graduação, Julio decidiu no pós-doutorado dar um passo mais ousado, buscando no arsenal teórico da experiência socialista a orientação pedagógica para uma ação educativa efetivamente emancipatória dos adolescentes e jovens. Eis por que se propôs, com o livro, contribuir para a formação dos jovens infratores por meio da pedagogia socialista. Traz à baila, portanto, a questão da pedagogia. Aproveito, então, o ensejo deste prefácio para abordar esse assunto.
Começo observando que, se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é pedagogia. É o caso, por exemplo, das teorias que chamei de crítico-reprodutivistas. Tais teorias propõem-se a explicar o fenômeno educativo sem a pretensão de orientar a prática pedagógica. Podemos, pois, dizer que são teorias sobre a educação, e não teorias da educação. Ou seja, são teorias educacionais, mas não teorias pedagógicas.
Com efeito, o conceito de pedagogia reporta-se a uma teoria que se estrutura com base na prática educativa e em função dela. A pedagogia, como teoria da educação, busca equacionar, de alguma maneira, o problema da relação educador-educando, de modo geral, ou, no caso específico da escola, da relação professor-aluno, orientando o processo de ensino e aprendizagem. Eis por que não se constituem como pedagogia aquelas teorias que analisam a educação pelo aspecto de sua relação com a sociedade, não tendo como objetivo formular diretrizes que orientam a atividade educativa.
Como constatei na abertura do livro A pedagogia no Brasil: história e teoria (Saviani, 2021a, p. 1), ao longo da história da chamada civilização ocidental, a pedagogia desenvolveu-se em íntima relação com a prática educativa, constituindo-se como a teoria dessa prática, sendo identificada em determinados contextos com o próprio modo intencional de realizar a educação. Através de vários séculos, a pedagogia construiu uma rica tradição teórica sobre a prática educativa que deve continuar a ser desenvolvida, a despeito e até mesmo por causa das inúmeras negativas de que foi alvo na história do pensamento humano.
No mesmo livro já citado tratei, no capítulo XII, da “polemização do campo pedagógico” (Saviani, 2021a, p. 122), observando que a trajetória histórica da pedagogia traz uma marca: o caráter polêmico. Especialmente no decorrer do século XX, o pensamento pedagógico foi atravessado por tendências contrapostas, a disputar a hegemonia do campo educativo: pedagogia conservadora versus pedagogia progressista; pedagogia religiosa versus pedagogia laica; pedagogia espiritualista versus pedagogia materialista; pedagogia autoritária versus pedagogia da autonomia; pedagogia repressiva versus pedagogia libertadora; pedagogia passiva versus pedagogia ativa; pedagogia da essência versus pedagogia da existência; pedagogia bancária versus pedagogia dialógica; pedagogia teórica versus pedagogia prática; pedagogias do ensino versus pedagogias da aprendizagem; pedagogia da exclusão versus pedagogia da inclusão; e, dominando todo o panorama e, em certo sentido, englobando as demais oposições, pedagogia tradicional versus pedagogia nova. Buscando tornar coesos os respectivos integrantes, cada um dos grupos em litígio elaborava o próprio discurso enfatizando as diferenças e destacando os pontos que o separavam do oponente, elegendo os slogans que melhor tipificavam cada posição e que tinham maior poder de atração para agregar novos aderentes.
Nessas contraposições a pedagogia se apresentava como uma teoria não necessariamente de caráter científico, embora, em certos casos, com pretensões científicas, o que fez emergir a questão sobre o grau em que a pedagogia poderia se constituir como ciência, já que uma tendência bastante difundida defendia a ideia da impossibilidade de uma ciência específica da educação admitindo a existência das várias ciências da educação, como a psicologia educacional, a sociologia da educação, a biologia educacional, a economia da educação, a antropologia educacional etc. Resulta necessário, portanto, elucidar essa questão.
As chamadas ciências da educação são ciências já formadas com um objeto próprio, externo à educação, e que compõem, em seu interior, um ramo específico que pensa a educação sob o aspecto de seu próprio objeto, recortando, no conjunto do fenômeno educativo, aquela faceta que lhe corresponde. Diferentemente, a ciência da educação propriamente dita se constitui à medida que constitui a educação, considerada em concreto, isto é, em sua totalidade, como seu objeto.
Temos, então, dois circuitos distintos. No primeiro caso, o das ciências da educação, cujos ponto de partida e ponto de chegada estão fora da educação. Ela é ponto de passagem. Assim, as pesquisas no âmbito das ciências da educação (sociologia da educação, psicologia da educação, economia da educação, antropologia educacional, biologia educacional etc.) circunscrevem a educação como seu objeto, encarando-a como fato sociológico, ou psicológico, ou econômico etc., que é visto, consequentemente, à luz das teorizações sociológicas, psicológicas, entre outras, a partir de cuja estrutura conceitual são mobilizadas as hipóteses explicativas do aludido fato. O processo educativo é encarado, pois, como campo de teste das hipóteses, que, uma vez verificadas, redundarão no enriquecimento do acervo teórico da disciplina sociológica, psicológica, econômica etc.
Já no segundo circuito, a educação, enquanto ponto de partida e ponto de chegada, torna-se o centro das preocupações. Em vez de se considerar a educação conforme critérios sociológicos, psicológicos, econômicos etc., são as contribuições das diferentes áreas que serão avaliadas a partir da problemática educacional. O processo educativo erige-se, assim, em critério, o que significa dizer que a incorporação desse ou daquele aspecto do acervo teórico que compõe o conhecimento científico em geral dependerá da natureza das questões postas pelo próprio processo educativo. É esse o caminho pelo qual poderemos chegar a uma ciência da educação propriamente dita, isto é, autônoma e unificada.
Essa ciência adquire um lugar próprio e específico no “sistema das ciências”, como de certo modo sugeri no livro Pedagogia histórico-crítica, publicado originalmente em 1991, quando afirmei:
Se a educação, pertencendo ao âmbito do trabalho não-material, tem a ver com ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, habilidades, tais elementos, entretanto, não lhe interessam em si mesmos, como algo exterior ao ser humano. Nessa forma, isto é, considerados em si mesmos, como algo exterior ao homem, esses elementos constituem o objeto de preocupação das chamadas ciências humanas, ou seja, daquilo que Dilthey denominou de “ciências do espírito”, por oposição às “ciências da natureza”. Diferentemente, do ponto de vista da educação, ou seja, da perspectiva da pedagogia entendida como ciência da educação, esses elementos interessam enquanto é necessário que cada indivíduo integrante do gênero humano os assimile, tendo em vista a constituição de algo como uma segunda natureza [Saviani, 2021c, p. 12-13].
No caso específico da educação e da pedagogia socialista, cumpre considerar preliminarmente os vários significados de socialismo. O Manifesto do Partido Comunista (Marx; Engels, 1968, p. 48-60) distingue “socialismo reacionário”, em que situa os socialismos feudal, pequeno-burguês e alemão, de “socialismo conservador ou burguês” e “socialismo e comunismo crítico-utópicos”. Depois, Engels (1977) diferenciou socialismo utópico de socialismo científico. Para ele, o socialismo utópico
criticava o modo de produção capitalista existente e suas consequências, mas não conseguia explicá-lo nem podia, portanto, destruí-lo ideologicamente; nada mais lhe restava senão repudiá-lo, pura e simplesmente, como mau [Engels, 1977, p. 43].
Era necessário, porém, captar o modo de produção capitalista em suas conexões e em sua necessidade histórica, pondo em evidência sua estrutura interna, “seu caráter íntimo”, que ainda se encontrava oculto. Essa tarefa foi realizada por Marx, que, com a teoria da mais-valia, desvendou o segredo da produção capitalista. Por esse caminho, foi possível ao socialismo tornar-se científico. Nessa acepção, o socialismo, em lugar de ser considerado como um ideal a ser conquistado pelo entusiasmo da vontade, pondo em prática planos atraentes, era encarado como produto das leis de desenvolvimento do capitalismo, emergindo como sua negação no processo revolucionário de transição para o comunismo conduzido pelo proletariado.
Portanto, a construção de uma pedagogia socialista com base no materialismo histórico, ou seja, de uma ciência da educação socialista, deve tomar como referência o método científico proposto por Marx. Porém, como nem Marx, nem Engels, nem Lênin, nem Lukács nem Gramsci chegaram a elaborar uma teoria da educação, estamos diante da tarefa de elaborá-la, inspirados no materialismo histórico, a referida teoria. No entanto, para realizar essa tarefa, tampouco basta recolher as passagens das obras de Marx e Engels diretamente referidas à educação, como o fizeram Manacorda (1964, 1991), Dommanget (1972, p. 321-348), Dangeville (1976) e mesmo Rossi (1981, 1982), que acrescentam lúcidas e pertinentes reflexões úteis à construção de uma pedagogia marxista. Também não é suficiente perscrutar as implicações educacionais do conjunto da obra dos fundadores do materialismo histórico, como o fez Suchodolski (1966). Com a Revolução Proletária de 1917, os vários países situados no campo socialista desenvolveram experiências educativas baseadas no materialismo histórico, mas, a meu ver, não chegaram a elaborar nem a sistematizar uma pedagogia socialista.
Penso que a tarefa da construção de uma pedagogia inspirada no marxismo implica a apreensão da concepção de fundo (de ordens ontológica, epistemológica e metodológica) que caracteriza o materialismo histórico. Imbuído dessa concepção, trata-se de penetrar no interior dos processos pedagógicos, reconstruindo suas características objetivas e formulando as diretrizes pedagógicas que possibilitarão a reorganização do trabalho educativo sob os aspectos das finalidades e dos objetivos da educação, das instituições formadoras, dos agentes educativos, dos conteúdos curriculares e dos procedimentos pedagógico-didáticos que movimentarão um novo éthos educativo voltado à construção de outra sociedade, outra cultura, outra humanidade.
Fiz uma primeira aproximação nessa direção ao formular a proposta da pedagogia histórico-crítica. Para tanto, recorri a alguns textos fundantes de Marx, especificamente à distinção entre produção material e não material, tendo em vista a caracterização da natureza e a especificidade da educação (Marx, 1978, p. 70-80). Igualmente, recorri ao texto “O método da economia política” (Marx, 1973, p. 228-240) ao estruturar o método da pedagogia histórico-crítica, ocasião em que indiquei de onde eu retirava o critério de cientificidade do método pedagógico proposto:
Não é do esquema indutivo tal como o formulara Bacon; nem é do modelo experimentalista ao qual se filiava Dewey. É, sim, da concepção dialética de ciência tal como a explicitou Marx no “método da economia política”, concluindo que o movimento que vai da síncrese (“a visão caótica do todo”) à síntese (“uma rica totalidade de determinações e relações numerosas”) pela mediação da análise (“as abstrações e determinações mais simples”) constitui uma orientação segura tanto para o processo de descoberta de novos conhecimentos (o método científico) como para o processo de transmissão-assimilação de conhecimentos (o método de ensino) [Saviani, 2021b, p. 59].
Além de Marx, Gramsci, que, entre os teóricos marxistas, foi aquele que mais avançou na discussão da questão escolar, alimentou minhas análises pedagógicas. Inspirado nele, lancei mão da categoria catarse para caracterizar o quarto momento do método da pedagogia histórico-crítica, constitutivo do ponto culminante do processo educativo, quando o educando ascende à expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social. Pareceu-me que a acepção gramsciana do termo catarse, entendendo-a como a “elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens” (Gramsci, 1978, p. 53), se revelava perfeitamente adequada para exprimir o momento da efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados, pela mediação do trabalho pedagógico, em elementos ativos de transformação social (Saviani, 2021b, p. 57).
Também em Gramsci me inspirei para indicar o caminho para a construção de um currículo escolar adequado às condições atuais próprias desse período de transição da forma social capitalista para uma sociedade socialista. Expressei esse encaminhamento em A pedagogia no Brasil: história e teoria (Saviani, 2021a, p. 128-130) nos seguintes termos: buscando encaminhar essa questão, o eixo da organização da educação escolar nas condições da nossa época me foi suscitado pela problematização efetuada por Gramsci (1968, p. 134-136), em sua reflexão sobre a questão escolar.
Foi dessa forma que encaminhei a construção da “pedagogia dialética”, correlata da construção da “psicologia dialética”, tal como se propôs Vigotski (2004). Aliás, quando Vigotski (2004) afirmou que a psicologia precisava de seu capital, ele estava referindo-se à necessidade de uma teoria dialética mediadora, uma psicologia geral, entre a ciência geral da dialética e a ciência psicológica. Daí ter ele observado que, assim como as ciências sociais, especificamente a história, precisam da mediação do materialismo histórico para passar do materialismo dialético à ciência dialética da história, também a psicologia necessita de uma teoria geral mediadora, um materialismo psicológico, para passar do materialismo dialético à ciência dialética da psicologia.
Embora eu tenha conhecido essa formulação de Vigotski (2004) após ter encaminhado a construção da pedagogia histórico-crítica, constato que, de maneira equivalente, a pedagogia precisou de uma teoria geral mediadora, um materialismo pedagógico, para passar do materialismo dialético à dialética da pedagogia, entendida como a ciência dialética da educação. Foi aberto, assim, o caminho da construção de uma pedagogia socialista em consonância com o socialismo científico desenvolvido por Marx e Engels (1968). Da mesma forma que a psicologia proposta por Vigotski (2004) veio a se chamar psicologia histórico-cultural, a pedagogia que propus foi denominada pedagogia histórico-crítica. Essa é a teoria socialista da educação que vem sendo construída por um coletivo de pesquisadores cobrindo os vários aspectos implicados na prática educativa como uma atividade mediadora no interior da prática social global.
Enfim, é no referido coletivo de pesquisadores que Julio Cesar Francisco vem se integrar ao publicar este livro sobre a pedagogia socialista como referência para a educação dos jovens infratores submetidos à ação penal do Estado.
Eis por que Julio, após abordar a questão das teorias da educação, pondo em posição central a pedagogia socialista (capítulo 1), se dedica ao estado da arte do sistema socioeducativo (capítulo 2). Contextualizando-o na história da educação juvenil no Brasil (capítulo 3), trata da questão jurídica e social do sistema socioeducativo juvenil (capítulo 4) explanando a situação e as perspectivas das adolescências e juventudes (capítulo 5), para analisar os contextos e as práticas educativas (capítulo 6). Nesse momento se dedica ao estudo empírico das formas assumidas pelo sistema socioeducativo nas regiões de Sorocaba (SP), do município de São Paulo (SP), de Fortaleza (CE) e de São Carlos (SP).
O livro encerra-se destacando a importância da qualificação do trabalho educativo não escolar articulado com a formação escolar durante a execução das medidas judiciais, abarcando os aspectos da instrução literária, artística e científica como expressão mais acabada da formação intelectual, visando ao pleno desenvolvimento humano dos jovens, tal como propõe a pedagogia socialista correspondente no Brasil à pedagogia histórico-crítica. Eis por que Julio buscou fundamentar sua pesquisa nos clássicos do marxismo, em autores da pedagogia socialista, assim como na própria pedagogia histórico-crítica.
São Paulo, 21 de março de 2024
Dermeval Saviani

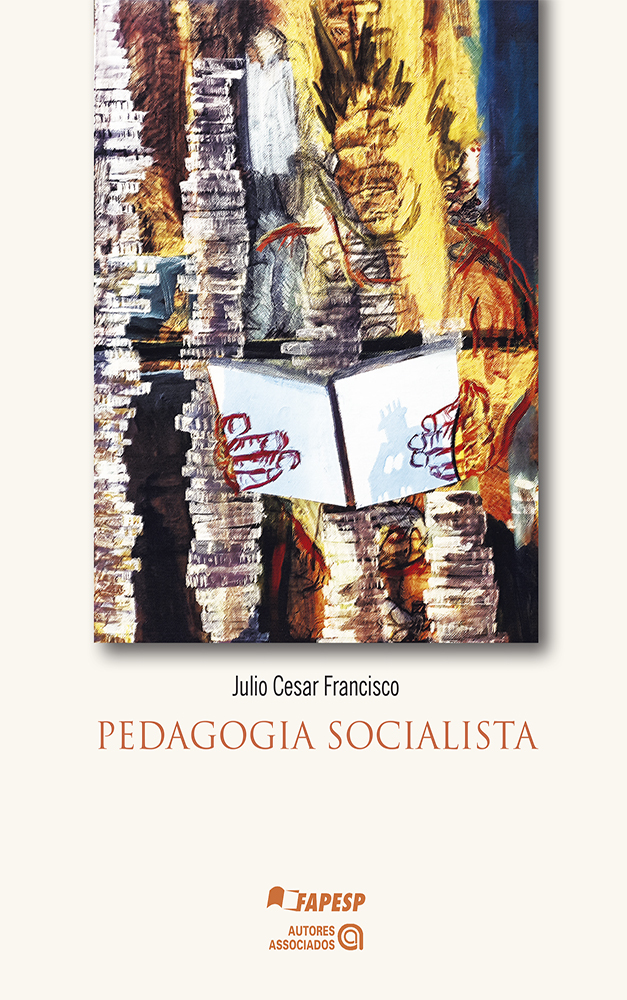
Avaliações
Não há avaliações ainda.